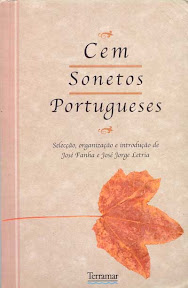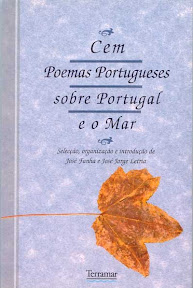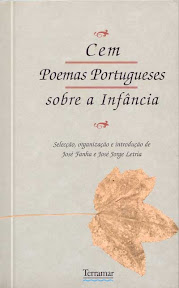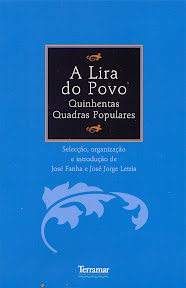A Poesia portuguesa do séc. XX tem uma riqueza e uma variedade impressionantes. A quantidade de grandes poetas é extraordinária. Basta lembrar os primeiríssimos, Pessoa, Pascoaes, Florbela, Régio, Gedeão, Torga, Nemésio, Sena, Sophia, Eugénio, Natália, David, O´Neill, Cesariny, Herberto, Pedro Tamen, Ruy Belo, Fiama, Fernando Assis Pacheco, Manuel Alegre, LUísa Neto Jorge, Vasco Graça Moura… Podia ainda juntar Sá-Carneiro, Almada Negreiros, José Gomes Ferreira, Botto, Ruy Cinatti, Manuel da Fonseca, Natércia Freire, Reinaldo Ferreira, Sebastião da Gama,António Maria Lisboa, Ana Hatterly, Teresa Horta, Fernando Assis Pacheco, Gastão Cruz, Armando Silva Carvalho, Manuel Aberto Pina, Nuno Júdice, Joaquim Pessoa, Al Berto.
Publiquei aqui 36 poetas pouco conhecidos e pouco visitados mesmo pelos que gostam de poesia. Com uma excepção (Manuel Cintra) fiquei pelos que nasceram na primeira metade do século (ou ainda em finais do século XIX). Poderia acrescentar mais uns 20 ou 30. Fora os mais novos, nascidos na segunda metade do séc. XX.
Alguns desses poetas terão escrito um poema deslumbrante e só por isso merecem a nossa admiração. Outros só publicaram um livro. Uns passaram pela vida brevemente ou em bicos de pés e a sua obra é póstuma. Outros tiveram muito sucesso num tempo e num determinado meio e depois foram completamente esquecidos.
Infelizmente não temos publicações de poesia que divulguem esta riqueza da nossa cultura. Infelizmente também já desapareceram aqueles que eram leitores especialmente apaixonados por poesia e que faziam da sua arte de ler uma luz que nos iluminava e ajudava a separar o trigo do joio. Estou a falar de João Gaspar Simões, David Mourão-Ferreira, Eugénio Lisboa (que ainda temos o prazer de ler de vez em quando) e poucos mais.
Fiquei muito satisfeito por ter aberto estas portas a quem por elas soube entrar. Agradeço do fundo do coração aos que, com os seus posts, fizeram com que uma ideia de trazer à baila meia dúzia de poetas pouco conhecidos, acabasse por me levar à quase obrigação de fazer um trabalho mais extenso.
Um blog é, ou pode ser, um espaço de convívio e partilha e só faz sentido pela convergência de vozes, às vezes mínimas, mas sempre generosas e amigas.
Agradeço profundamente aos posts (falharei muitos muitos nomes por certo) Licínia, Júlio Pego, Paulinha Caçadora de Emoções, Margarida Graça, Samuel, Rita Carrapato, Maria, Mariam, Eufrázio Filipe, Lena, Tiago Carvalho… Tantos mais.
Termino esta série com aquele que é o mais amado dos poetas fora de moda. O mais popular, o mais cantado, declamado e copiado de todos: o José Carlos Ary dos Santos. E se digo que ele foi e é um poeta fora de moda, quero falar das modas literárias, das “bem pensâncias”, daqueles que julgam que a poesia se suja quando desce à rua, que me menoriza quando assume causas, que se banaliza quando quer oferecer a sua música e as suas palavras àqueles que mais precisam delas.
Mas também quero dizer que o justificado amor de muitas pessoas pelo mais fácil e público do trabalho poético do Zé Carlos, acabou por deixar na obscuridade a sua poesia mais pessoal, mais torturada e, muitas vezes, mais elaborada. É essa poesia que quero lembrar aqui e deixar sinal de uma grande saudade por um homem cuja arte e coragem fazem muita falta a todos nós e à literatura portuguesa.